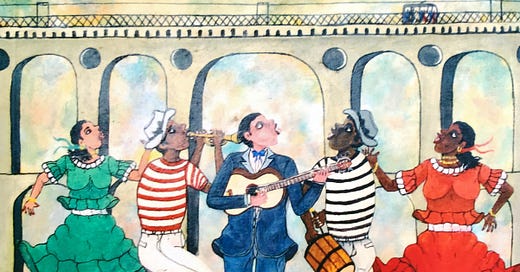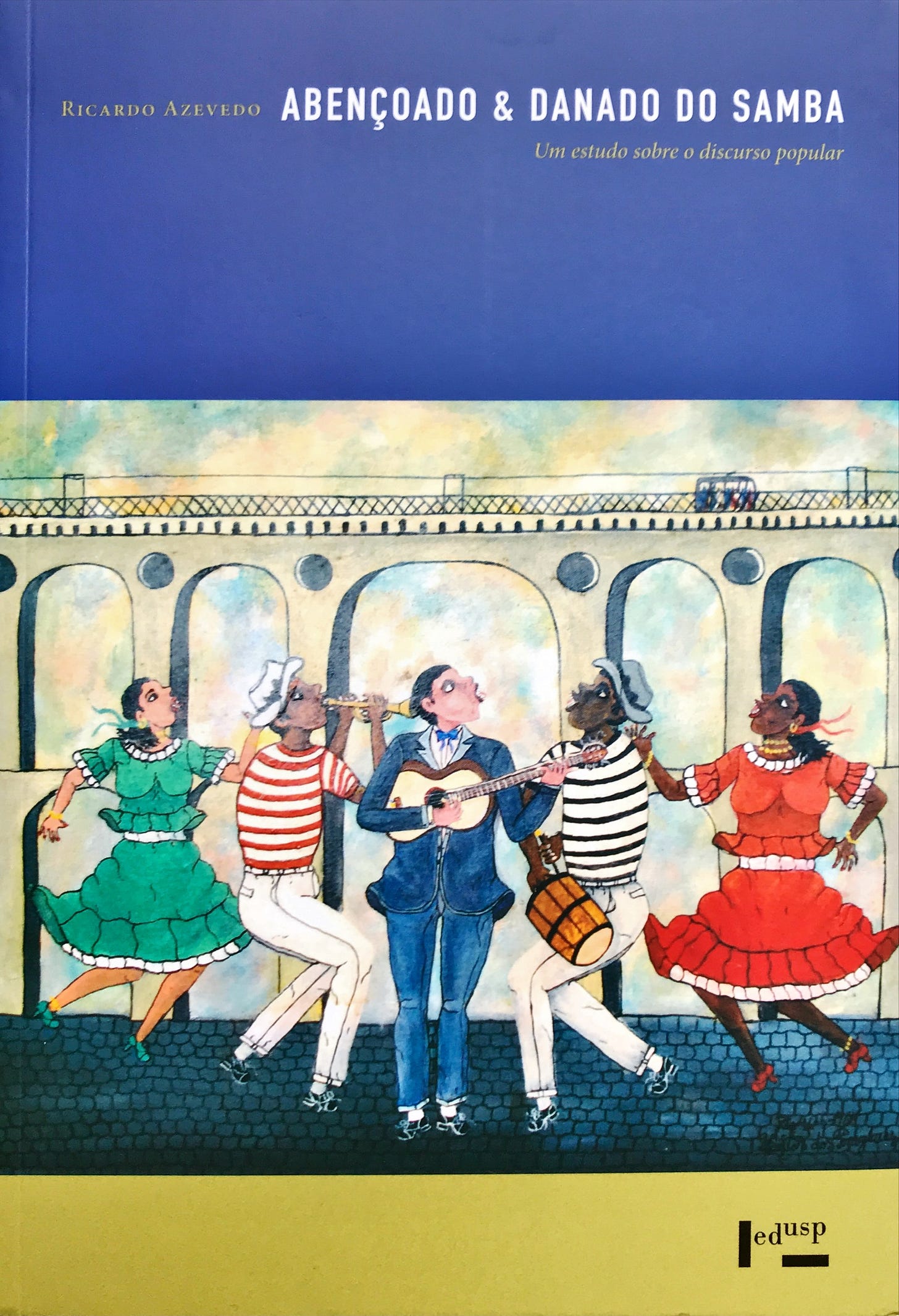Cultura popular, literatura e padrões culturais (Parte 1)
Para tratar das relações entre cultura popular e literatura, creio que seja necessário considerar, mesmo que de forma bastante esquemática, a existência de pelo menos dois modelos culturais: o popular e tradicional e o oficial, moderno e escolarizado. Ambos correspondem a maneiras entrelaçadas, por vezes bastante divergentes, de enxergar a vida e o mundo. O primeiro seria enraizado, por exemplo, na valorização de sistemas hierárquicos assim como na cultura oral e suas implicações. O segundo, na valorização do individualismo assim como na cultura escrita e suas implicações. Cada um destes modelos culturais tem gerado discursos construídos a partir de diferentes padrões sociais, éticos e estéticos. O artigo tenta apontar algumas dessas inúmeras e complexas diferenças e suas consequências na construção dos discursos.
Sociedades são organizações humanas complexas e diversificadas. Quanto maiores, maiores as chances de existirem em seu seio diferentes modos de apreensão da vida e do mundo.
Creio que para falar em cultura popular, considerando o Brasil, é preciso pensar, mesmo que seja de forma bastante esquemática, na existência de dois sistemas de conhecimento atuando de forma mais ou menos dialógica, um influenciando o outro, embora isso ocorra em graus diferentes.
A realidade, naturalmente, é algo inefável, mutante e multifacetado que ultrapassa qualquer binarismo. O que se propõe aqui é um modelo geral e esquemático para pensar sobre um assunto denso e multifacetado. Espero que, mesmo sendo precário, ele possa ser útil.
Falei em sistemas de conhecimento e isso implica hábitos mentais e padrões sociais, éticos e estéticos.
Vamos chamar um desses sistemas de cultura oficial, aquela representada pelo poder político e pelas elites culturais e econômicas, cultura cujos padrões, conteúdos e valores estão organizados de forma relativamente sistemática, formatada e esquematizada. Seus paradigmas são transmitidos por escolas e universidades, por livros, métodos e teorias, assim como pela mídia, jornais, revistas, televisão, publicidade etc. Em princípio, esse conhecimento depende diretamente da cultura escrita.
Apesar de sua grande diversidade, tal sistema apresenta certa homogeneidade. Por exemplo, os programas educativos, independentemente de graus, são coordenados por ministérios, secretarias estaduais e municipais e ou tendem a ser os mesmos no Brasil inteiro. Esses programas podem ser considerados homogêneos também por outra razão: são baseados em informações fixadas por texto.
Por outro lado, a televisão veicula mais ou menos o mesmo conjunto de valores, discursos, linguagens e modas por todos os cantos do país. O mesmo ocorre com os produtos industriais divulgados pela propaganda e suas mensagens que, no geral, obedecem aos mesmos princípios e, é bom lembrar, implicam uma bem determinada forma de pensar e enxergar a vida e o mundo.
Vamos chamar o outro sistema de conhecimento de cultura popular. Tal sistema reúne um conjunto imenso de manifestações e existe paralelamente à cultura oficial. Porém, ao contrário desta, se desenvolve de forma caótica, espontânea e não programada, sendo construído no dia-dia da vida cotidiana. A cultura popular é diversificada, heterogênea e heterodoxa e apresenta as mais variadas facetas e graduações nas diferentes regiões do país. Pode-se dizer que sua produção costuma ser expressão de cada contexto onde se desenvolve. Melhor seria trata-la no plural: culturas populares.
Falo de forma bastante esquemática e os problemas são muitos. Por exemplo: o que é “popular”? Afinal, como sabemos, todo mundo pertence ao povo. Ricos e pobres, alfabetizados e analfabetos, patrões e empregados, doutores e gente que mal e mal concluiu o primeiro grau, todos são representantes do povo brasileiro.
Mesmo assim, é preciso reconhecer, algumas pessoas parecem ser mais do povo do que outras.
Não à toa, existem expressões como grã-fino, ricaço, bacana, colarinho branco e tubarão.
E expressões como povão, galera, ralé, populacho e zé povinho.
Quem é o zé povinho?
São, obviamente, as pessoas de classes baixas, as populações rurais que ainda restam, as camadas empobrecidas das periferias urbanas ou as classes operárias de baixo poder aquisitivo. Em suma, são os pobres dos grandes centros e a maioria dos homens do campo.
Não é preciso fazer uma pesquisa para dizer que essa imensa camada da população está muito mais mergulhada em uma cultura não oficial e espontânea, uma cultura popular, do que no sistema de conhecimento oficial, particularmente no que diz respeito à escola, até porque boa parte dela passou muito pouco ou nem passou pelos bancos escolares.
Não sou estatístico mas talvez cerca de 130 milhões de brasileiros (75% da população) sejam incapazes de utilizar a leitura e a escrita em benefício próprio. Refiro-me a ler jornais, revistas, bulas de remédio, manuais técnicos e contratos. Refiro-me à incapacidade de enviar uma mensagem importante por escrito. Refiro-me a compreender o que dizem os locutores dos jornais televisivos cheios de jargões, abstrações, termos técnicos e estatísticas.
Neste sentido, pode-se associar a noção de “popular” tanto a “baixo poder econômico” como a “baixo grau de instrução”. Mas isso também é discutível.
Acontece que, por outro lado e para complicar, é possível, no Brasil, pensar em pessoas de nível universitário, pertencentes às classes médias e altas [20% da população?], com poder econômico, acesso ao conhecimento de ponta em todos os níveis e, mesmo assim, por razões familiares e outras, serem vinculadas a hábitos mentais populares, se pensarmos em valores, princípios e estilos de vida, ou seja, determinados padrões sociais, éticos e estéticos.
O que interessa aqui? Ressaltar que, no geral, a cultura popular não é a mesma cultura da escola, do saber sistemático, erudito, científico, técnico e impessoal transmitido por professores e livros didáticos ou universitários.
Aliás, quando vista como conhecimento, a cultura do povo costuma ser desprezada pelo modelo oficial.
Mas como explicar as obras de João Guimarães Rosa, José Candido de Carvalho, Manoel de Barros, Ariano Suassuna, Heitor Villa-Lobos, Camargo Guarnieri, Heckel Tavares, Guerra Peixe, Radamés Gnatalli, Antônio Carlos Jobim, Baden Powell, Egberto Gismonti, Chico Buarque, Edu Lobo, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Antônio Nóbrega, Tarsila do Amaral, Volpi, Portinari, Aldemir Martins, Hélio Oiticica, Siron Franco, Gilvan Samico e tantos outros? Como seriam as obras desses grandes artistas se delas fossem retirados os traços populares?
Surge a questão: afinal, que conjunto de procedimentos, técnicas, imagens e linguagens populares foram apropriados, mesmo que em graus diferentes, por esses artistas considerados “cultos”? Embora não sistematizado em programas, livros, métodos e compêndios, esse conjunto corresponde, sim, ao que chamamos de conhecimento
Infelizmente, como disse Eric A Havelock, “tornou-se moda nos países industrializados considerar as culturas não-letradas como não–culturas”. Havelock adverte que uma cultura oral “merece ser considerada e estudada nos seus próprios termos. E referindo-se à literatura, acrescenta que ela “...escapará à nossa compreensão enquanto efetuarmos a sua critica exclusivamente de acordo com as regras da composição letrada.” (C.f. HAVELOCK, Eric A. A revolução da escrita na Grécia e suas conseqüências culturais. Unesp e Paz e Terra, 1996, p.101 e p.190.)
Dou um exemplo. O improviso é procedimento conhecido e tradicional, utilizado recorrentemente nas artes do povo e até na vida popular. Basta lembrar gambiarras com o fornecimento de luz, a arquitetura dos favelados etc. Tento dizer que, até por razões de sobrevivência, o “quebra galho”, o “jeitinho”, as “mutretas” e a criatividade, ou seja, o improviso, são marcas constantes da vida popular. É preciso lembrar, pensando em arte, que o improviso representa um recurso, uma espécie de método, uma forma construtiva, é um procedimento e pode ser ensinado. Aliás, é aprendido pelo jovem artista popular que observa e imita o repentista e versejador mais velho e experiente. Tal recurso, humano e muito expressivo, tende a ser ignorado e simplesmente desaparecer do modelo de conhecimento oficial. Nunca ouvi falar de uma escola que abordasse programaticamente o recurso do improviso. É uma pena e uma perda!
Outro aspecto relevante para a compreensão das culturas do povo é seu claro e profundo vínculo com a oralidade
Sabemos que boa parte das manifestações populares e do conhecimento do povo é marcada pela transmissão feita boca a boca, de modo informal, de forma espontânea, na base do “quem conta um conto aumenta um ponto”. Mas quais as implicações de tudo isso nos discursos?
Vamos pensar num recado escrito.
Alguém precisa transmitir um recado importante. Se o tal recado for enviado por escrito, seu autor estará livre e independente da situação face-a-face e de um contexto determinado, concreto e situado. Note-se que, por estar fixado, o discurso escrito pode atravessar o tempo. Isso significa que é possível ler o recado de alguém que já morreu faz tempo. Por não estar diante do leitor, quem manda a mensagem deverá construir um discurso necessariamente mais complexo, afinal, precisará estruturar o texto numa certa ordem para que sua argumentação fique transparente, esclareça os pontos essenciais e entre em detalhes de forma que o que se quis dizer esteja representado no texto. Em outras palavras, para funcionar, tal recado precisa prever certas perguntas de seu eventual leitor.
Além disso, no recado escrito, o autor pode também, se quiser, ser original, recorrer a artifícios de linguagem, inventar palavras novas, arriscar-se a ambigüidades, criar imagens inusitadas, experimentar jogos sintáticos, parodiar, estilizar, fazer citações ou ilações e, ainda, optar pela sobreposição dos códigos verbal e visual, uma vez que o texto está escrito e fixado num suporte como papel ou outro. Seu autor pode também abordar temas obscuros de seu exclusivo interesse pessoal. Pode ainda ser, por exemplo, propositadamente agressivo, até porque não há qualquer perigo de revide.
Num recado assim, pode ser indiferente para seu autor se a mensagem será compreendida ou não. É possível até imaginar que ela seja incompreensível, ambígua, obscura e hermética de propósito ou programaticamente. Todas essas atitudes e recursos são possíveis porque, no texto escrito, o leitor poderá ler e reler várias vezes, consultar dicionários, pedir a opinião de outras pessoas, refletir sobre o que leu e, assim, gostando ou não, construir sua interpretação.
É importante notar, mais uma vez que, ao escrever, todo autor conta automática e necessariamente com uma “interpretação”, mesmo que em graus diferentes. Basta comparar os textos “A água ferve a 100 graus” e “ Os cavalos da aurora derrubando pianos/avançam furiosamente pelas portas da noite” (“Poema barroco” de Murilo Mendes). O preço da comunicação clara na mensagem por escrito é a impessoalidade, como se vê no primeiro exemplo.
É preciso lembrar ainda que todo texto escrito é obrigatoriamente um solilóquio, ou seja, nele o orador sempre está falando sozinho.
Vamos agora pensar num recado falado,
Neste caso, o autor precisa ser claro e direto pois vê-se diante de um ouvinte, uma pessoa de carne e osso, concreta e situada.
Sendo assim suas estratégias são necessariamente outras.
Não costuma fazer sentido, num discurso falado, numa comunicação face-a-face, a utilização de um vocabulário complicado ou falar uma coisa para dizer outra. Também não parece ser a melhor estratégia, num discurso de viva voz, entrar em muitos detalhes, pois isso seria confuso e cansativo. Não convêm, ainda, abordar assuntos por meio de pontos de vista demasiadamente singulares ou complexos. Também não é aconselhável partir para as citações. É melhor evitar falar em outras línguas. É melhor fugir de sintaxes pouco usuais. É arriscado inventar palavras ou recorrer a imagens e metáforas obscuras ou pessoais demais.
Se o autor de um recado de viva voz for agressivo e xingar o ouvinte vai correr o risco de levar uma surra.
Salvo em certas cerimônias religiosas, que implicam desejos e crenças por parte de seus fiéis, são desconhecidos recados de viva voz dados por gente morta.
Abro parênteses: todos nós, religiosos e ateus, letrados e iletrados, modernos e tradicionais, somos movidos pelos mais variados desejos e crenças.
Volto aos discursos. Em suma, o discurso escrito e o discurso oral obedecem a modelos construtivos diferentes, têm objetivos diferentes e exigem estratégias diferentes.
No contato direto, face-a-face, o que eu quero dizer e o que eu digo costumam estar sobrepostos. Se isso não ocorrer provavelmente não vou ser compreendido e alguém logo vai gritar: “Péra aí, não entendi o que você disse!”. Há exceções, os atos de fala indiretos, mas isso é outra história que não cabe discutir aqui (C.f. SEARLE, John R. Expressão e significado. Estudos da teoria dos atos de fala. Martins Fontes, 2002).
Se há uma característica fundamental do discurso popular, creio, é o fato de ele, em princípio, ser criado e construído, tanto faz se oralmente por um poeta analfabeto, ou por meio da escrita, no caso de um poeta alfabetizado, tendo como pressuposto a comunicação oral, ou seja, a situação da comunicação feita face-a-face e suas implicações, algumas delas descritas acima.
Quero dizer que há textos escritos que se assumem como o que são: mensagens escritas. Nelas, o escritor escreve para ser lido e o leitor lê com a postura de quem lê um texto escrito, o que pressupõe poder reler, consultar dicionários, analisar e interpretar.
Há porém textos escritos que funcionam como mensagens ditas de viva voz. Neste caso, o escritor escreve como, ou quase como, quem fala e o leitor lê como, ou quase como, quem escuta alguém falando em voz alta num contato face-a-face.
Neste caso, mesmo considerando o texto escrito, o autor se coloca na posição imaginária de quem dá um recado de viva voz.
Os primeiros são textos típicos da cultura escrita, portanto, marcados pela escolarização. Por vezes podem ser técnicos, utilitários e impessoais. Por vezes podem ser herméticos, abstratos e demandam necessariamente interpretação.
Os segundos são textos marcados pela oralidade. Estes são como um recado de viva voz, pretendem sempre ser compreendidos e, por essa razão, tendem a utilizar uma linguagem clara e pública para tratar de assuntos compreensíveis a todos.
Boa parte da literatura e da poesia impressa é produzida tendo como base e pano de fundo a cultura escrita, ou seja, a possibilidade de releitura, análise e interpretação, com as implicações advindas daí.
Creio que a literatura popular, e também a literatura para crianças e jovens, tendem a adotar o modelo marcado pela oralidade, ou seja, o escritor escreve quase como se estivesse falando de viva voz a outra pessoa num contato face-a-face situado, com as implicações advindas daí.
O que pretendo ressaltar? Que ambos os textos demandam do escritor diferentes estratégias e procedimentos com a linguagem.
Na minha visão, essas diferenças entre estratégias e modelos construtivos deveriam ser mais estudadas e conhecidas na escola e mesmo na universidade. Não creio que sejam.
Chegou a hora de fazer uma comparação, ainda que breve e esquemática, entre o que chamo de modelo oficial e de modelo popular.
Creio que seja possível identificar o modelo oficial e escolarizado com a chamada “cultura moderna”. E a modernidade, hegemônica em nossos dias, tem cultivado alguns valores que merecem ser melhor discutidos.
O espaço é curto e o assunto é vasto mas vou tentar levantar certos pontos de discussão.
Quais seriam alguns elementos característicos da cultura moderna?
Em primeiro lugar, a valorização da ação individual, o que implica no individualismo (C.f. DUMONT, Louis. O individualismo. Uma perspectiva antropológica da ideologia moderna. Rocco, 2000 ou DA MATTA, Roberto. Carnavais, malandros e heróis – Para uma sociologia do dilema brasileiro. Zahar, 1979).
Segundo os teóricos do assunto, o individualismo corresponde à ideia de que o homem seja “livre”, “igual” e “autônomo”
“Livre” (daí as ideias de “livre arbítrio”, “livre pensamento”, “livre iniciativa”, “livre comércio”);
“Igual” (supõe a “igualdade de oportunidades” ou a “igualdade perante a lei”)
“Autônomo” (trata-se da capacidade de se “autogovernar”, ou seja, de agir segundo leis e interesses próprios).
Neste modelo, conhecido de todos nós e alastrado em boa parte do mundo contemporâneo, o homem, em suma, vê-se livre para construir o significado de sua vida, de suas relações com o Outro, de suas relações com a sociedade etc.
É livre também para construir seu discurso da forma que quiser, com liberdade e autonomia, ou seja, independentemente da platéia ou do leitor
Como tal discurso é marcado pela cultura escrita, pode se dar ao luxo de ser complexo e hermético afinal, fixado por texto, pode ser relido, analisado e interpretado. Isso ocorre mesmo na música popular.
Retirei todos os exemplos deste artigo de letras da nossa música popular.
Vejamos a letra de “Panis et circensis” de Gilberto Gil e Caetano Veloso.
Eu quis cantar
Minha canção iluminada de Sol
Soltei os panos sobre os mastros no ar
Soltei os tigres e os leões nos quintais
Mas as pessoas na sala de jantar
São ocupadas em nascer e em morrer
Mandei fazer
De puro aço luminoso um punhal
Para matar o meu amor e matei
Às cinco horas na avenida central
Mas as pessoas na sala de jantar
São ocupadas em nascer e em morrer (...)
Agora um trechinho de “Outras palavras” de Caetano Veloso”
Nada dessa cica de palavra triste em mim na boca
Travo, trava mãe e papai alma buena dicha loca
Neca desse sono de nunca jamais nem never more
Sim dizer que sim pra Cilú pra Dedé pra Dadi e Dó
Crista do desejo o destino deslinda-se em beleza
Outras palavras outras palavras (...)
Trata-se de textos nitidamente marcados pela modernidade e pela cultura escrita.
São discursos interessantes porém complexos, complicados, fragmentados, abstratos (ou seja, não visualizáveis) que necessariamente demandam interpretação.
Por outro lado, no discurso moderno, certos temas tendem a desaparecer. Penso agora na família mas poderia me referir ao trabalho, à festa ou ao envelhecimento entre muitos outros assuntos. Na verdade, a situação relativa à vida familiar ou a mera menção à família, na modernidade, parecem não fazer mais sentido. É que pertencer a uma família implica não ter liberdade, igualdade e autonomia. Como explica Louis Dumont, a família é um “elemento pré-moderno” (op.cit).
A referência à família surge raramente no discurso marcado pela modernidade, pelo menos na música popular. Há exceções, é claro, mas no geral, quando aparece, muitas vezes adota tom analítico, critico e irônico.
Vejamos trechos de “Mamãe coragem” de Caetano Veloso e Torquato Neto:
Mamãe, mamãe não chore
A vida é assim mesmo
E eu fui-me embora
Mamãe, mamãe não chore
Eu nunca mais vou voltar por aí
Mamãe, mamãe não chore
(...)
Pegue uns panos pra lavar
Leia um romance
Veja as contas do mercado
Pague as prestações
(...)
Seja feliz
Mamãe, mamãe não chore
Eu quero, eu posso
Eu quis, eu fiz...
“Eu quero, eu posso, eu quis, eu fiz”. Sem dúvida, estamos diante de um discurso moderno e individualista. Como vimos, a modernidade costuma valorizar a liberdade e a autonomia com relação às hierarquias e isso fica claro neste texto.
Vejamos “Eu não sou da sua rua” de Branco Mello e Arnaldo Antunes:
Eu não sou da sua rua
Eu não sou o seu vizinho
Eu moro muito longe, sozinho
Estou aqui de passagem
Eu não sou da sua rua
Eu não falo a sua língua
Minha vida é diferente da sua
Estou aqui de passagem
Esse mundo não é meu
Esse mundo não é seuOutro exemplo: “Metamorfose ambulante” de Raul Seixas:
Prefiro ser
Essa metamorfose ambulante
Do que ter aquela velho opinião formada sobre tudo
Eu quero dizer
Agora o oposto do que eu disse antes
Prefiro ser
Essa metamorfose ambulante
Do que ter aquela velho opinião formada sobre tudo...
Nessas letras, o individualismo aflora com toda força: a voz que fala ou canta parece sentir-se única, singular, diferente de tudo e de todos.
São típicos discursos modernos que denotam uma visão de mundo claramente marcada pela crença no modelo individualista.
Os textos citados acima, em todo caso, não têm nada a ver com a cultura popular
É que o modelo popular, mesmo quando visto de forma esquemática, de certo modo é o oposto a tudo isso.
Em primeiro lugar, neste padrão, costuma haver uma grande valorização das redes hierárquicas.
Neste caso, o homem vê a si mesmo como uma pessoa integrante de uma complexa teia de relações humanas e consanguíneas, tanto sociais quanto místicas, o que implica na valorização da família, do contexto em que se vive, da vizinhança, de grupos de interesses comuns, da religiosidade (por definição, um sistema hierárquico capitaneado por deus ou deuses), de parentes que já morreram etc.
Isso significa que
a) a pessoa vê-se como alguém que necessariamente pertence a esquemas hierárquicos: a família, a vizinhança, a comunidade, a escola de samba, o time de futebol, a crença religiosa etc. assim como a certa cultura e a certas tradições pelas quais de alguma forma acredita ter obrigações e responsabilidades;
b) nenhuma pessoa pode se sentir “igual” afinal pertence a um certo patamar hierárquico e deve, por exemplo, respeitar os mais velhos que estão num patamar acima. Neste modelo, costumam ter reconhecida sua autoridade, sabedoria e experiência. Afinal, conhecem a tradição, sabem o que aconteceu antigamente, detêm a experiência de vida e são fonte de conhecimento real. A “Velha Guarda” das escolas de samba são um exemplo entre muitos.
O modelo hierárquico supõe ainda uma grande sensação de familiaridade entre as pessoas [c.f. BAKHTIN, Mikhail. A cultura popular na Idade Média e no Renascimento. Hucitec, 1993]. Trata-se de uma igualdade humana diferente da que costuma ser valorizada na modernidade. Nada tem a ver com princípios objetivos e teóricos mas sim com uma espécie de identificação natural entre todas as pessoas. Neste modelo, no fundo, todos somos parecidos afinal somos “filhos de Deus”, gente de carne e osso, gente que tem família, amores, necessidades práticas e que festeja e trabalha como “todo mundo”.
Falamos da “igualdade” como um valor moderno mas, é preciso esclarecer, neste caso ela representa um princípio teórico. Trata-se de uma igualdade na diferença: somos iguais por sermos únicos e singulares. Nada a ver com a visão popular.
c) ninguém, no padrão hierárquico, se considera “autônomo” nem a autonomia faz sentido. Um homem sozinho, no mundo popular, está lascado. Nesse ambiente, como sabemos, é comum o trabalho em parcerias e mutirões, mães que deixam de trabalhar para cuidar de filhos da vizinhança etc. Neste caso, a interdependência entre as pessoas é vista como algo natural e, como o povo diz, “a união faz a força”. Até o poeta culto, vez por outra, se lembra disso, afinal, nas palavras de João Cabral de Melo Neto “um galo sozinho, não tece uma manhã”.
(contina na newsletter 119)
📝Este artigo, escrito em 2004, tem por base estudos para meu livro “Abençoado e danado do samba – Um estudo sobre o discurso popular”, Edusp, 2013 – Prêmio Senador José Ermírio de Moraes 2014 – Academia Brasileira de Letras – e Prêmio Jabuti 2º lugar na categoria Teoria/Crítica literária Câmara Brasileira do Livro, 2014.
🖼️ A imagem é a capa do livro.
Quer ver todas as newsletters anteriores?
Um pouco mais sobre o meu trabalho
📚 Livros | 📄 Artigos | 💬 Entrevistas | 🖼️ Ilustrações | 🎶 Canções